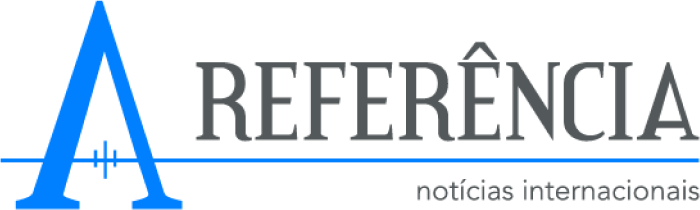Uma grande operação antidrogas no Rio de Janeiro deixou 132 mortos na madrugada de 28 de outubro, quando forças de segurança confrontaram uma das maiores quadrilhas do crime organizado do país. Foi uma das ações policiais mais sangrentas da história recente do Brasil. As informações constam de um artigo da The Conversation, assinado por Adriana Marin, professora de Relações Internacionais da Universidade de Coventry, na Inglaterra.
Cerca de 2.500 agentes invadiram as favelas dos complexos do Alemão e da Penha, redutos do Comando Vermelho, o grupo criminoso mais antigo do país. Mais de 80 pessoas foram presas.
As autoridades descreveram a operação como “a maior ação contra facções da história do país”. Já a ONG Human Rights Watch classificou o episódio como “uma enorme tragédia”.

A ofensiva reacende o debate sobre o ressurgimento da política de “mão de ferro” na América Latina, caracterizada por policiamento militarizado, encarceramento em massa e uso extensivo da força como instrumento de controle social.
Essas políticas, conhecidas como mano dura, têm raízes nos anos 2000, quando países da América Central, como El Salvador, Honduras e Guatemala, responderam ao aumento da violência de gangues com estratégias de repressão militar.
O que distingue a nova onda é sua escala e o contexto geopolítico. A “mão de ferro” deixou de ser vista como exceção e passou a ser tratada como modelo legítimo e até necessário de governança diante da criminalidade e da fragilidade institucional.
No Brasil, o crescimento do apoio popular à intervenção militarizada reflete o medo do poder das facções. A eleição de Jair Bolsonaro, em 2018, consolidou esse sentimento, com promessas de policiamento agressivo e ampliação da presença militar em áreas civis.
Embora o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tenha se posicionado como alternativa mais moderada, a operação desta semana indica que as pressões estruturais por políticas linha-dura permanecem, independentemente da ideologia do governo.
O fenômeno também dialoga com tendências globais. A retórica de “lei e ordem”, promovida por líderes como Donald Trump, transformou o debate sobre segurança pública ao tratar o crime como guerra e não como questão social.
Trump chegou a elogiar execuções extrajudiciais e defendeu o uso das Forças Armadas para “retomar” cidades americanas, declarações que ecoaram além das fronteiras dos Estados Unidos.
Embora não se possa afirmar que a política americana inspire diretamente a repressão policial na América Latina, ela reforça uma narrativa em que violência estatal é confundida com liderança decisiva.
Na região, líderes de diferentes espectros políticos têm explorado o medo da criminalidade para legitimar medidas de exceção. O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, atingiu índices recordes de aprovação após decretar prisões em massa e militarizar a segurança.
No caso do Rio, a megaoperação também funcionou como demonstração de autoridade: uma tentativa de reafirmar o poder estatal e sinalizar controle.
Mas as políticas de “mão dura” têm histórico de resultados efêmeros e efeitos colaterais profundos. Estudos mostram que operações letais e encarceramentos em massa fragmentam facções, alimentam dissidências violentas e ampliam a desconfiança das comunidades em relação ao Estado.
Em contextos de exclusão social e desigualdade, o uso excessivo da força sem o devido processo legal normaliza execuções extrajudiciais e fragiliza as instituições democráticas.
As próprias facções, como o Comando Vermelho, surgiram no sistema prisional durante períodos de encarceramento em massa, um reflexo do colapso das políticas de segurança baseadas na punição.
Enquanto governos buscam respostas rápidas à crise de segurança, muitos recorrem à força militar como solução emergencial, frequentemente com apoio popular. Isso cria um paradoxo de segurança: medidas populares no curto prazo podem perpetuar a própria violência que tentam combater.
O ataque no Rio, portanto, simboliza um ponto de inflexão para a América Latina. Ele evidencia o desafio de equilibrar segurança e democracia, e de compreender se o endurecimento das políticas públicas é solução. Ou apenas o sintoma de uma crise institucional mais profunda.