Entre 1995 e 2017, os acordos comerciais firmados entre a China e países da África saltaram de US$ 3 bilhões para US$ 143 bilhões, colocando o país asiático acima dos Estados Unidos como maior investidor estrangeiro no continente. Somente entre 2005 e 2017, Beijing investiu US$ 137 bilhões em projetos de infraestrutura em nações africanas. Todo esse dinheiro, viabilizado pela Nova Rota da Seda (Belt and Road Initiative, da sigla em inglês BRI), tem um viés não apenas econômico, mas também geopolítico. O objetivo é criar uma nova ordem mundial, tendo a China como potência hegemônica global, segundo o jornal francês Le Monde.
O primeiro grande projeto de infraestrutura da China na África foi a ferrovia ligando a Zâmbia à Tanzânia, construída dentro de um acordo de cooperação firmada em 1965 entre os três países. A linha ferroviária, atualmente gerida justamente por uma empresa chinesa, permitiu a Beijing iniciar um plano de expansão de influência no continente, que desde o início ajudou no plano mais amplo de o país asiático se estabelecer como uma superpotência global.
Em 1971, por exemplo, o apoio das nações africanas foi fundamental para a República Popular da China assumir sua cadeira na ONU (Organização das Nações Unidas), até então pertencente a Taiwan. Na ocasião, 26 países da África votaram a favor de Beijing como verdadeira representante chinesa no órgão, em vez de Taipé. Hoje, esse apoio se estende por 53 nações, sendo Eswatini a única exceção continental.
“China e África sempre formaram uma comunidade com um destino extraordinário. Nosso passado comum e nossas lutas comuns nos levaram a forjar uma amizade profunda”, disse o presidente chinês Xi Jinping em dezembro de 2015, durante o Fórum de Cooperação Sino-Africana.

Na visão dos envolvidos, a relação é benéfica para todos. Um acordo do tipo “ganha-ganha”. De um lado, a China lucra com os juros pagos pelos destinatários dos empréstimos. Do outro, as nações africanas conseguem um financiamento difícil de obter, usado em projetos de infraestrutura que teoricamente geram crescimento econômico e desenvolvimento. Sem a China, eles argumentam, a África seria um continente muito mais pobre atualmente.
O Banco Mundial, porém, afirmou em 2017 que 27 países africanos apresentavam um nível preocupante de endividamento com a China, pois os débitos tornaram-se impossíveis de pagar. Em Angola, por exemplo, o dinheiro chinês representa 40% de todo investimento estrangeiro no país. No Zimbábue, o débito com Beijing saltou de 48% do PIB nacional, em 2013, para 82%, em 2017. Já em Moçambique ele duplicou nesse mesmo período, de 51% para 102%.
“Há países africanos que, desse ponto de vista, estão altamente endividados e pelos quais devemos ter uma série de preocupações”, diz o economista e sinologista Thierry Pairault, diretor de pesquisa emérito do Centro Nacional de Pesquisa Científica da França (CNRS). “Podemos continuar a fazer empréstimos assim?”, questiona.
O que torna a China a principal fonte de dinheiro é o temor que outras nações têm de jamais reaver o dinheiro que foi investido. Também pesa o fato de que Beijing não tem maiores preocupações com a situação política do país a quem cede dinheiro, um questionamento ético comum por parte do Banco Mundial. Além disso, os acordos não oferecem apenas dinheiro, mas também a capacidade técnica necessária para realização dos projetos, como mão de obra e tecnologia.
O que levanta uma questão: por que Beijing aceita o risco que outros evitam? A resposta está no aspecto geopolítico dos investimentos. Para fazer bom uso do dinheiro, a China estabelece cláusulas que permitem aos países, em caso de calote, pagarem com matéria-prima ou com a própria infraestrutura. Como ocorreu no Sri Lanka em 2015. Na ocasião, a China não recebeu o pagamento e, assim, assumiu por 99 anos o controle do porto que havia construído, tornando-se soberana por um século em uma área com uma das rotas marítimas mais movimentadas do mundo.
Através de situações semelhantes à do Sri Lanka, Beijing aumenta sua influência e ajuda a criar uma nova ordem mundial, tendo a China como nova potência hegemônica. “Criaremos uma comunidade de destinos comuns para a humanidade e iniciaremos a reforma do sistema de governança global”, disse Xi durante Congresso do Partido Comunista Chinês (PCC). E essa mudança só é possível com o suporte das nações africanas, como ocorreu em 1971 na ONU.
Prova de que a China trabalha para expandir sua influência e vender sua cultura mundo agora está na criação do Instituto Confúcio, um centro cultural que também serve como escola de línguas para ensinar o mandarim. Já são 54 unidades na África, quase a mesma quantidades de institutos franceses no continente, que são 64.
“A cultura chinesa tem se tornado mais e mais visível na África. Especialmente no Quênia, onde, por exemplo, foi aberto o primeiro Instituto Confúcio em 2005″, diz o jornalista queniano Armel Bukeyeneza. “A televisão nacional chinesa também abriu seu primeiro escritório em Nairóbi, e o governo queniano decidiu que crianças de dez anos podem aprender mandarim nas escolas desde 2020”
Embora a China afirme que não exista uma agenda política por traz dos empréstimos, está mais do que claro que existe. Em 2017, Beijing abriu a primeira base militar no exterior, no Djibuti, algo que a China tinha jurado não fazer e que tanto criticou na política externa dos EUA. O Djibuti tem bases dos EUA, da Itália, do Japão e da Índia, e a presença chinesa serve para dar um recado claro ao mundo.
“Estar no Djibuti significa estar próximo das potências, fazer como as potências”, diz Pairault, deixando claro que, ao menos nessa questão, as ações da China na África não diferem das de outras superpotências.
Por que isso importa?
A BRI começou a se desenhar após a crise financeira internacional de 2008, quando as empresas chinesas se voltaram para a Eurásia de olho em atraentes ativos industriais e comerciais. Então, pipocaram projetos de infraestrutura de transporte e energia com financiamento chinês, o principal foco desde então. Em 2013, a iniciativa se estabeleceu globalmente como uma das bases da política externa do presidente Xi Jinping.
O objetivo central da BRI é espalhar a influência de Beijing através do investimento. No total, 140 países foram beneficiados com dinheiro proveniente da iniciativa chinesa até 2020, de acordo com o Grenn FDC. O maior número deles está na África, com 40 nações. Entre 2013 e dezembro de 2020, a China investiu cerca de US$ 770 bilhões nos países participantes da BRI.
No início, os governos receberam muito bem os bilhões de dólares injetados por Beijing, especialmente pelo fato de isso ter ocorrido logo após uma recessão global histórica. Hoje, com muitas das nações inseridas na BRI em situação financeira dramática, manter em dia o pagamento das dívidas é missão quase impossível.
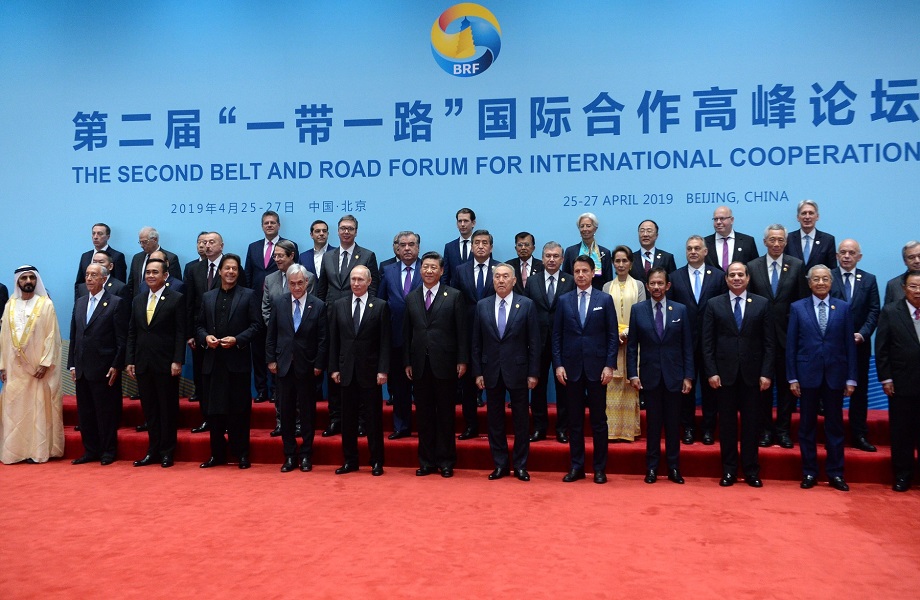
Essa é parte da estratégia chinesa, que invariavelmente usa a inadimplência como justificativa legal para assumir a gestão dos próprios projetos que financiou. Assim, estende os tentáculos do Partido Comunista Chinês mundo afora ao assumir o controle de infraestruturas cruciais em todos os continentes.
A questão ambiental, uma das preocupações centrais do Global Gateway europeu, é outro ponto negativo da BRI. Segundo Vuk Vuksanovic, pesquisador da Escola de Economia e Ciências Políticas de Londres, Beijing tem como objetivo “a terceirização da poluição e da degradação ambiental para países mais pobres e distantes, com extrema necessidade de financiamento de infraestrutura e desenvolvimento socioeconômico, cujos governos ignoram os riscos ambientais”.
Um estudo do think tank canadense Iffras (Fórum Internacional por Direitos e Segurança, da sigla em inglês) corrobora a opinião de Vuksanovic. Segundo relatório publicado pela entidade em setembro, a iniciativa chinesa tende a “aumentar ainda mais a degradação ambiental e as mudanças climáticas”.
Em países como Indonésia, Egito, Quênia, Bangladesh, Vietnã e Turquia, a BRI está ligada a projetos de usinas de geração de energia movidas a carvão. No final de 2016, a ONG Global Environment Institute (Instituto de Meio Ambiente Global, em tradução literal) registrou 240 projetos movidos a carvão ligados à iniciativa chinesa.
“A Nova Rota da Seda (BRI) tem um grande foco na construção de projetos de energia, e quase 90% deles são intensivos em carbono, operando com combustível fóssil“, diz o documento do Iffras. “Dada a magnitude da BRI, que se espalha pelos cinco continentes, o planeta vai sofrer impactos graves e negativos graças ao jeito chinês de construir projetos em que as diretrizes ambientais dificilmente são seguidas”.
